18-20/4/2014, [*] Arno J. Mayer, Conterpunch
Traduzido pelo pessoal da Vila Vudu
É
tempo de se fazer um debate nacional – e um referendo a ser iniciado pelos
cidadãos norte-americanos – sobre se, sim ou não, os EUA devem empreender
imediatamente o autodesarmamento nuclear unilateral. Pode ser exercício salutar
e exemplar, em democracia participativa.
 |
| Península da Crimeia reincorporada, via eleições democráticas, à Federação Russa |
Ao discutir a “crise” Ucrânia-Crimeia,
pode ser higiênico para os norte-americanos, incluindo os políticos, os
especialistas de think-tank e os torsos falantes de televisão, lembrar
dois momentos notáveis, “às primeiras luzes do alvorecer” [1]
do Império Norte-Americano: em 1903, no início da Guerra Hispano-Americana, sob
o governo do presidente Theodore Roosevelt, os EUA tomaram a parte sul da Baía
de Guantánamo mediante um Tratado Cuba-EUA que reconhece a soberania
inafastável de Cuba sobre essa base; um ano depois da Revolução Bolchevique, em
1918, o presidente Woodrow Wilson despachou 5 mil soldados dos EUA para
Arkhangelsk no norte da Rússia, para participar da intervenção Aliada na Guerra
Civil da Rússia, que abriu as cortinas para a Primeira Guerra Fria. Para
anotar: em 1903, não havia Fidel Castro em Havana; e em 1918 não havia Joseph
Stálin no Kremlin.
Pode ser também saudável notar que o
impasse sobre Ucrânia-Crimeia [2] acontece no interminável eco da
Segunda Guerra Fria, no momento em que o sol está começando a pôr-se no Império
Norte-Americano, enquanto emerge um novo sistema internacional de várias
grandes potências.
 |
| Edward Gibbon |
Claro, os impérios têm modos diversos não
só de nascer e brilhar, mas também de declinar e expirar. O que hoje tem
especial relevância apareceu como uma das questões percucientes e desafiadoras
de Edward Gibbon sobre o Declínio e Queda do Império Romano. Gibbon
acabou por concluir que, mesmo com as causas do declínio e da ruína de Roma já
satisfatoriamente provadas e explicadas, permanece ainda o grande enigma de por
que “subsistiu por tanto tempo”. De fato, as causas internas e externas de ter
subsistido são muitas e complexas. Mas um aspecto merece atenção especial: a
confiança na violência e na guerra, tentando retardar e adiar o inevitável.
Nos tempos modernos e contemporâneos, os
impérios europeus continuaram a lutar, não apenas entre eles mesmos, mas também
contra aqueles “seus novos cativos, servos obstinados, metade demônio, metade
criança”, [3] sempre que se atrevessem a resistir ou eventualmente se
levantassem contra seus amos imperiais-coloniais. Depois de 1945, na Índia e no
Quênia; na Indochina e Argélia; no Irã e Suez; no Congo. Desnecessário dizer:
até hoje o ainda vigoroso império dos EUA e os decaídos impérios europeus
terçam lanças no esforço para salvar o que possa ser salvo nas terras
ex-coloniais por todo o Oriente Médio Expandido, África e Ásia.
Não há como negar que o império
excepcionalmente informal dos EUA, sem colônias de ocupação, expandiu-se por todo
o globo durante e depois da IIª Guerra Mundial. Fez o que fez, porque foi
poupado da horrenda e imensa perda de vidas, da devastação material e da ruína
econômica que se abateram sobre as outras grandes potências beligerantes,
Aliados e Eixo. Para completar, o “complexo industrial-militar” sempre em
expansão, disparou, do dia para noite, o poder circunstancial e momentaneamente
único, marcial, econômico e soft, da Pax Americana.
Mas agora, o peculiar Império Americano
já ultrapassou o momento do apogeu. Seus tendões econômicos, fiscais, sociais,
cívicos e culturais estão seriamente desgastados. Ao mesmo tempo, os BRICS
(Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) e Irã reclamam seu lugar no
concerto das potências mundiais no qual, por bom tempo, cada um e todos jogarão
pelas regras de um novo modelo de mercantilismo numa soi-disant economia
capitalista de “livre mercado” globalizante.
A esplêndida Era Norte-Americana de
“coturnos no solo” e “mudança de regime” está começando a chegar ao fim. Mesmo
na esfera hegemônica decretada pela Doutrina Monroe, há um mundo de diferença
entre as intervenções de antes e de hoje. Nos nem tão distantes bons velhos
tempos, os EUA intrometeram-se sem disfarces na Guatemala (1954), Cuba (1962), República Dominicana (1965), Chile (1973), Nicarágua (1980s), Grenada
(1983), Bolívia (1986), Panamá (1989) e Haiti (2004), quase invariavelmente sem
entronizar e dar posse a “regimes” mais democráticos e socialmente
progressistas. Atualmente, se pode dizer que Washington caminha com muito mais
cautela, servindo-se de uma parafernália de criptoagências tipo-ONGs e seus
agentes, na Venezuela. Assim faz porque em todos os domínios, exceto o militar,
o império está não só muito excessivamente estendido e disperso, mas, também,
porque, ao longo dos últimos poucos anos, governos/“regimes” de tendência à
esquerda emergiram em cinco nações latino-americanas os quais, muito
provavelmente, se tornarão cada vez menos economicamente e diplomaticamente
dependentes de, e menos temerão, os EUA.
Embora em vasta medida subliminarmente,
quanto mais forte o sentimento de decadência e o medo da decadência e do
declínio imperiais, maiores a húbris nacional e a arrogância do poder que atravessam
as linhas partidárias. Na verdade, o tom e o vocabulário nos quais
neoconservadores e conservadores de centro-direita continuam a trombetear o
autoformatado e historicamente sem similar excepcionalismo dos EUA, a grandeur
e a indispensabilidade, são mais agudos que os “da esquerda”, na qual, nos
apertos, todos tendem a ter medo, primeiro, da própria sombra. Atualmente, a
posição e a retórica de Winston Churchill são emblemáticas dos conservadores e
seus parceiros de viagem na época do declínio imperial do Ocidente que se
sobrepôs com a ascensão e queda da União Soviética e do comunismo. Churchill
foi ferozmente anti-Soviético e anticomunista de primeira hora e tornara-se
discreto admirador de Mussolini e Franco antes, em 1942, proclamando alto e
claro:
Não me tornei Primeiro−Ministro do rei para comandar a liquidação do
Império Britânico.
 |
| Winston Churchill |
Àquela altura, Churchill também já se
tornara há muito tempo proclamador do mantra ideologicamente envenenado do “appeasement”
[aprox. “apaziguamento”, mas com traço semântico de “medo de lutar”, “medo de
enfrentar” e, até, de “covardia” (NTs)], que faz dupla perfeita com seu
discurso famoso “Cortina de Ferro” de março de 1946.
Desnecessário dizer, jamais uma palavra
sobre Londres e Paris, na reunião de Munique, depois de terem deliberadamente
ignorado ou recusado a oferta de Moscou para colaborar na questão tcheca
(Sudeten). Nem Churchill, nem sua torcida organizada jamais concederam que o
Pacto Ribbentrop-Molotov (Pacto Nazi-Soviético) de agosto de 1939 foi selado um
ano depois do Pacto de Munique, e que ambos foram movimentos de xadrez
geopolíticos e militares igualmente ideologicamente infames.
Stálin foi tirano indizivelmente cruel. Mas
foi a Alemanha Nazista de Hitler que invadiu e desgraçou a Rússia Soviética
pelo corredor da Europa Central e Oriental. E foi o Exército Vermelho, não os
exércitos dos aliados ocidentais, que, a custo horrendo, quebrou a espinha
dorsal da Wehrmacht.
Se as grandes nações da União Europeia
hesitam hoje em impor sanções econômicas totais contra Moscou pela atitude de
desafio na Crimeia e Ucrânia, não é só por causa do efeito bumerangue
desproporcional contra elas. As potências ocidentais, especialmente a Alemanha,
têm memória e narrativa continentais, mais que transatlânticas, da Segunda
Crise e Guerra dos Trinta Anos da Europa, seguida imediatamente, praticamente
até hoje, pela Guerra Fria dirigida e incansavelmente financiada pelos EUA
contra “o império do mal”.
 |
| Nikita Khrushchev |
Durante o reinado de Nikita Khrushchev e
Mikhail Gorbachev, a OTAN, fundada em 1949 e essencialmente liderada e
financiada pelos EUA, foi inexoravelmente empurrada diretamente para ou contra as
fronteiras russas. Foi feito ainda mais deslavadamente depois de 1989-1991,
quando Gorbachev libertou as “nações cativas” e assinou a favor da reunificação
da Alemanha. Entre 1999 e 2009, todas as nações da Europa Oriental libertadas –
membros do ex-Pacto de Varsóvia – em torno da Rússia, e três ex-repúblicas
soviéticas foram integradas à OTAN, até eventualmente comporem 1/3 dos 28
países membros dessa aliança militar do Atlântico Norte.
Só a Finlândia optou por neutralidade
desarmada dentro da esfera soviética e depois pós-soviética. Do dia para a
noite, ou quase, a Finlândia passou a ser acusada, não só de estar “apaziguando−amolecendo”
com a potência nuclear sua vizinha, mas, também, de constituir perigoso modelo
para o resto da Europa e, na sequência, para o então chamado Terceiro Mundo.
Na verdade, durante a Guerra Fria
perpétua, em quase todo o “mundo livre”, a palavra e o conceito de
“finlandização” tornaram-se ferramentas de maldição, equivalentes a
“comunismo”, ainda mais porque foram adotados pelos que criticavam os
sacerdotes da Guerra Fria e advogavam a favor de uma “terceira via” ou do “não
alinhamento”. Ao mesmo tempo, a OTAN, quer dizer, Washington, olhava
intensamente na direção das duas: da Geórgia e da Ucrânia.
Dia 2/3/2014, o Departamento de Estado
dos EUA distribuiu uma declaração sobre a situação na Ucrânia, pelo Conselho do
Atlântico Norte, no qual declarou que:
(...) a Ucrânia é considerada parceira da OTAN e membro fundador da Parceria
para a Paz (...) e que os aliados da
OTAN continuarão a apoiar a soberania, independência e integridade territorial
da Ucrânia, e o direito do povo ucraniano de determinar o próprio futuro, sem
interferência externa.
O Departamento de Estado também
declarava que
(...) além de sua tradicional defesa das nações aliadas, a OTAN lidera a
Força Internacional de Segurança e Assistência [orig. International Security Assistance Force
(ISAF)] coordenada pela ONU no
Afeganistão, e tem missões em andamento nos Bálcãs e no Mediterrâneo; a OTAN
também mantém exercícios extensivos de treinamento e oferece apoio de segurança
a parceiros por todo o mundo, inclusive à União Europeia em particular, mas
também à União Africana.
Em questão de dias, depois do movimento
de monitoramento de Putin na Ucrânia, a OTAN, especificamente o presidente
Obama, reagiu: um destróier armado com mísseis atravessou o Bósforo para o Mar
Negro para exercícios navais, com navios das Marinhas romena e búlgara; jatos
de combate F-15 foram despachados para reforçar as missões de patrulha da OTAN
sobre os estados do Báltico (Estônia, Latvia e Lituânia); e um esquadrão de
bombardeiros F-16 e uma companhia completa de “coturnos em solo” foi deslocada
às pressas para a Polônia.
Claro: esses deslocamentos e reforços
foram ostensivamente ordenados por causa daqueles aliados da OTAN ao longo da
fronteira da Rússia, todos “regimes” que, durante as duas guerras e especialmente
durante os anos 1930s, não haviam sido exatamente exemplos de democracia; e
porque sua fobia anti-Rússia & anticomunismo os aproximara, todos, da
Alemanha nazista. E depois que as legiões de Hitler entraram na Rússia pelas
fronteiras, setores não insignificantes da sociedade política e civil nesses
países não foram exatamente meros transeuntes inocentes, nem meros
colaboradores na Operação Barbarossa e no judeicídio.
Por via das dúvidas, o Secretário de
Estado, John Kerry, sacudidor-de-dedo-em-chefe do governo Obama, só denunciou o
deslocamento ordenado por Putin na e em torno da Ucrânia−Crimeia como “ato de
agressão completamente escancarado em termos de pretexto”. Também por via das
dúvidas, contudo, ele logo acrescentou que “não se invade outro país”. Foi o
que disse, e num momento em que nada havia de ilegal no movimento de Putin.
 |
| Hillary Hitler |
Mas Hillary Clinton, predecessora de
Kerry no mesmo cargo, e muito provável candidata à indicação pelos Democratas à
presidência, que muito mais e mais diretamente demoniza Putin como agente não
reconstruído da KGB ou mini-Stálin, saltou logo à jugular:
Se está soando familiar... É como Hitler fez nos anos 30s.
Também, como que para enfraquecer
qualquer crítica ao seu surto verbal, Clinton logo acrescentou que:
Só quero que as pessoas tenham um pouco de noção histórica.
Quer dizer: quer que “as pessoas”
aprendam as táticas nazistas no cenário da IIª Guerra Mundial.
Quanto ao senador Republicano, John
McCain, derrotado por Barack Obama à presidência em 2008, operava no mesmo
comprimento de onda. Disse que a política externa “acovardada” de seu
arquirrival praticamente induzira o movimento agressivo de Putin, com a
implicação não dita de que o presidente Obama seria um neo-Neville Chamberlain,
avatar do “apaziguamento−amolecimento”.
Mas foi o senador Republicano Lindsey
Graham quem disse com todas as letras o que já se sussurrava pelos corredores
do establishment da política exterior e em tantas redações da
imprensa-empresa dominante. Pregou que se criasse “um cordão democrático em
torno da Rússia de Putin”. Para isso, Graham propôs que se iniciassem as
providências para tornar a Geórgia e a Moldávia membros da OTAN. Graham também
advogou um aumento na capacidade militar dos membros da OTAN “mais ameaçados”
junto às fronteiras da Rússia, além de expansão nos sistemas de radar e de
mísseis de defesa.
Em resumo, estaria “amarrando a bandeira
da OTAN o mais firmemente possível, em torno de Putin” – que é a política da
OTAN desde 1990. Assumindo diferentes tarefas, enquanto o senador Graham tocava
o tambor Republicano no Capitólio e para a imprensa-empresa, o senador McCain
correu para Kiev, para dar prova da firmeza, decisão, competência e músculos
dos “outros” EUA, tão diferentes da tibieza, da frouxidão do presidente Obama e
de sua equipe de política exterior. Esteve na capital da Ucrânia pela primeira
vez em dezembro; e novamente em meados de março de 2014, liderando uma
delegação bipartidária de oito senadores, todos com ideias parecidas.
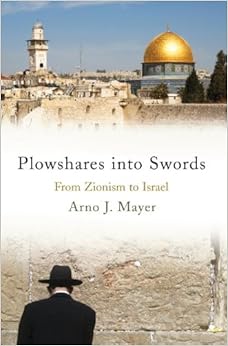 Na Praça Maidan em Kiev, ou Praça
Independência, McCain não apenas se misturou como também discursou para a massa
de ferozes nacionalistas anti-Rússia, incluídos os não poucos neofascistas;
também andou por lá ao lado de Victoria Nuland, Secretária de Estado Assistente
dos EUA para assuntos europeus e eurasianos. Já se falou muito daquele infeliz
ou revelador “Foda-se a União Europeia” dela, na conversa gravada com o
embaixador dos EUA na Ucrânia, Geoffrey Ryatt; e da farta distribuição de
docinhos na Praça Maidan. O que interessa é que Nuland é parceira assumida e
consumada do establishment da política externa imperial de Washington,
serviu aos governos Clinton e Bush, antes de subir a bordo do governo Obama; e
é amiga muito próxima de Hillary Clinton.
Na Praça Maidan em Kiev, ou Praça
Independência, McCain não apenas se misturou como também discursou para a massa
de ferozes nacionalistas anti-Rússia, incluídos os não poucos neofascistas;
também andou por lá ao lado de Victoria Nuland, Secretária de Estado Assistente
dos EUA para assuntos europeus e eurasianos. Já se falou muito daquele infeliz
ou revelador “Foda-se a União Europeia” dela, na conversa gravada com o
embaixador dos EUA na Ucrânia, Geoffrey Ryatt; e da farta distribuição de
docinhos na Praça Maidan. O que interessa é que Nuland é parceira assumida e
consumada do establishment da política externa imperial de Washington,
serviu aos governos Clinton e Bush, antes de subir a bordo do governo Obama; e
é amiga muito próxima de Hillary Clinton.
Além disso, ela é casada com Robert
Kagan, mago da geopolítica que, embora visto como neoconservador, dá-se
igualmente bem, como a esposa, tanto com os Republicanos importantes quanto com
os Democratas importantes. Foi assessor para política externa de John McCain e
Mitt Romney durante a campanha presidencial, duas vezes, em 2008 e 2012, antes
de o presidente Obama revelar ao mundo que esposava alguns dos principais
argumentos de The World America Made (2012), o mais recente livro de
Kagan. Nesse livro, Kagan ensina modos de preservar o império, controlando-o
com algo como 12 forças navais construídas em torno de invencíveis porta-aviões
movidos a energia nuclear, com o que expandirá o Mare Nostrum dele até o
Mar do Sul da China e o Oceano Índico.
Como discípulo de Alfred Thayer Mahan,
Kagan naturalmente se beneficiou, para consumar sua entrée nos círculos
próximos dos fazedores e agitadores das políticas exterior e militar dos EUA, e
passou anos na Carnegie Endowment e
na Brookings Institution. Isso, antes
de, em 1997, tornar-se cofundador, com William Kristol, do neoconservador “Projeto
Para o Novo Século Norte-Americano” [orig. Project for the New American
Century], comprometido com promover a “liderança global” dos EUA, à caça da
segurança nacional e dos interesses dos EUA. Poucos anos depois, quando esse think
tank expirou, Kagan e Kristol passaram a ter papel chave na Iniciativa de
Política Exterior [orig. Foreign Policy Initiative], descendente
ideológico linear do outro.
Mas a questão não é que a démarche
de Victoria Nuland na Praça Maidan possa ter sido indevidamente influenciada
pelos escritos e engajamentos políticos do marido. De fato, na questão
ucraniana, o mais provável é que ela esteja mais atenta a Zbigniew Brzezinski,
outro especialista em geopolítica de alta visibilidade o qual, contudo, nada
exclusivamente em águas Democratas já desde 1960, quando foi conselheiro de
John F. Kennedy durante a campanha eleitoral à presidência e tornou-se
Conselheiro de Segurança Nacional do presidente Jimmy Carter. Pesadamente fixado
na Eurásia, Brzezinski parece montado mais nos ombros de Clausewitz, que de
Mahan. Mas os dois, Kagan e Brzezinski, são imperialistas norte-americanos de
sangue quente.
Em 1997, em seu O Grande Tabuleiro de
Xadrez, Brzezinski escreveu que:
 |
| Zbigniew Brzezinski |
(...)
a luta pela primazia global continuará a ser disputada” no “tabuleiro de
xadrez” eurasiano, e que aquele é um “novo e importante espaço [nesse] tabuleiro de xadrez (...) A Ucrânia foi um pivô geopolítico porque até
a sua existência como país independente ajuda a transformar a Rússia. De
fato, (...) se Moscou recupera o controle
sobre a Ucrânia, com seus [então] 52 milhões de habitantes e ricos recursos,
além do acesso ao Mar Negro, a Rússia (...) automaticamente recupera condições para tornar-se poderoso estado
imperial, alastrando-se para Europa e Ásia.
O roteiro não escrito de Brzezinski,
idêntico ao dos conselheiros para política exterior de Obama é: intensificar os
esforços do Ocidente – leia-se: dos EUA – por todos e quaisquer meios, para
separar a Ucrânia da esfera de influência russa, incluindo especialmente a
Península do Mar Negro que dá acesso ao leste do Mediterrâneo pelo Mar Egeu.
Presentemente, mais do que se focar nos
projetos geopolíticos e objetivos da “agressão” russa contra Ucrânia−Crimeia,
Brzezinski virou os holofotes de sua pregação contra as intenções e movimentos
(para ele sempre nefandos) de Putin, sobre o Grande Tabuleiro de Xadrez.
Admitir que Putin ande livremente na Ucrânia-Crimeia seria “semelhante às duas
fases da tomada, por Hitler, do Sudeten, depois de Munique, em 1938, e a
ocupação final de Praga e da Tchecoslováquia no início de 1938”. Sem discordância
possível, “muito depende da clareza com que o Ocidente faça saber ao ditador no
Kremlin – em parte arremedo cômico de Mussolini, sem esquecer o arremedo muito
mais grave, de Hitler – que a OTAN não poderá ser passiva, se eclodir uma
guerra na Europa”. Porque se a Ucrânia for “esmagada, com o Ocidente apenas
assistindo, a nova liberdade e a segurança de Romênia, Polônia e das três
repúblicas do Báltico também serão ameaçadas”.
Depois de ter ressuscitado a Teoria do Dominó,
Brzezinski exige que:
(...) o Ocidente reconheça imediatamente o atual legítimo governo da Ucrânia
e garanta privadamente (...) que o exército ucraniano pode contar com
imediata e direta ajuda do ocidente, para reforçar suas capacidades de defesa.
Ao mesmo tempo, “as forças da OTAN
(...) devem ser postas em alerta máximo,
para o caso de o envio por ar de forças aeroembarcadas da Europa e dos EUA ser
politicamente e militarmente significativo.
Como para complementar, Brzezinski
sugeriu que além de
(...) todos os esforços para evitar erros que possam levar a guerra, o
Ocidente deve reafirmar seus desejos de
acomodação pacífica (...) [e] garantir
à Rússia que não está tentando arrastar a Ucrânia para a OTAN nem voltá-la
contra a Rússia.
Mirabile dictu. Mas que maravilha! Que ideia oportuna!
Brzezinski, como Henry Kissinger, geopolítico seu parceiro, com a mesma cabeça
imperial de Guerra Fria, sugeriu uma espécie de Finlandização da Ucrânia, mas −
desnecessário dizer − não dos demais estados da fronteira leste. E sem esquecer
que, na verdade, proposta assemelhada já fora feita, de fato, por Sergey
Lavrov, Ministro de Relações Exteriores da Rússia.
 |
| Sergey Lavrov, Ministro de Relações Exteriores da Rússia |
Claro, os tipos do tipo Kagan,
Brzezinski e Kissinger continuam a elogiar o serviço excepcional que os EUA
prestaram na “mudança de regime” em Kiev – que resultou num governo no qual
neofascistas e ultra nacionalistas da vanguarda da Praça Maidan estão bem
representados.
Uma vez que quem critique as más
intenções dos EUA é rapidamente desqualificado como liberal idiota de esquerda
contratado para exagerar o lado escuro da força antidemocrática dos EUA, pode
ser útil ouvir o que diz alguém que, sobre o tema, pode ser declarado
absolutamente confiável. Abraham Foxman, diretor nacional da Liga Antidifamação
[orig. Anti-Defamation League] e renomado inquisidor-chefe contra o
antissemitismo, já disse que:
(...) não há dúvidas de que a Ucrânia, como a Croácia, foi um dos lugares
onde milícias locais tiveram papel central no assassinato de milhares de judeus
durante a IIª Guerra Mundial.
E que o antissemitismo
que absolutamente não desapareceu na Ucrânia (...) gerou em meses recentes
vários incidentes de antissemitismo e há na Ucrânia pelo menos dois partidos, Svoboda
e Setor Direita (Pravy Sektor), que incluem entre seus quadros nacionalistas
extremistas e antissemitas.
Mas, tendo dito isso, Foxman insiste que:
 |
| Abraham Foxman |
(...) é pura demagogia e esforço para racionalizar comportamento criminoso
dos russos invocar o ogro do antissemitismo na luta na Ucrânia (...), porque se pode dizer que há mais
antissemitismo manifesto no movimento planetário de Occupy Wall Street, do que
na revolução em andamento na Ucrânia. A verdade é que Putin (...) joga a carta do antissemitismo como joga
a carta de Moscou (...) querer proteger
os russos étnicos contra alguma pretensa agressão de extremistas ucranianos.
Pois mesmo assim, porém, ainda assim, para Foxman, é errado e repreensível sugerir que as políticas de Putin na Ucrânia
tenham algo a ver com políticas nazistas durante a 2ª Guerra Mundial.
Mas, entretanto, contudo, porém, Foxman
apressa-se a explicar que “não é absurdo
evocar a mentira de Hitler” sobre o suplício dos alemães do Sudeten ser
comparável a exatamente o que Putin está
dizendo e fazendo na Crimeia, o qual
(Putin) tem mesmo, sim, de ser condenado
(...) com o mesmo empenho com que o mundo
deve condenar o movimento dos alemães no Sudeten.
Essa argumentação sinuosa e torturada
está em perfeita harmonia com o que dizem os linha-duras norte-americanos e
israelenses, que obram para conter e fazer recuar uma grande potência
ressurgente russa, como fazem contra a Síria e o Irã, na “área próxima”, na
Europa e na Ásia.
Ouvindo Brzezinski e McCain, Washington
está reunindo suas forças nos estados do Báltico, especialmente na Polônia, com
vistas a ter material acumulado para obter novas sanções. Mas essa intervenção
à moda antiga estará cortando gelo fino, a menos que seja totalmente
organizada, militarmente e economicamente, com os membros peso-pesado da OTAN –
o que parece improvável. Claro que os EUA têm drones e armas de
destruição em massa. Mas a Rússia também tem.
 |
| Robert Kagan |
Seja como for, para imperialistas não
reconstruídos, e para o AIPAC sionista, o xis da questão não é a Europa
“próxima” da Rússia, mas a re-emergência do Oriente Médio Expandido, atualmente
na Síria e no Irã e, isso, num momento quando, segundo Kagan, o Golfo Pérsico
empalidece, em importância econômica e estratégica, se comparado à região do
Pacífico Asiático, onde está despertando a gigante China a qual, já agora,
apenas semidespertada, é a segunda economia do mundo – equivalente a mais da
metade da economia dos EUA – e quase inacreditável 3ª maior detentora de papéis
da dívida pública dos EUA, de longe o maior detentor de papeis do Tesouro dos
EUA.
Em resumo, o não regenerado Império-EUA
quer ativamente conter, ao mesmo tempo, a Rússia e a China usando seu bom e
velho modus operandi, começando ao longo e para além da Europa “próxima”
da Rússia e o Mar do Sul da China e Estreito de Taiwan que conecta o Mar do Sul
da China ao Mar do Leste da China.
Por causa das sempre crescentes
limitações de orçamento, Washington já há muito tempo reivindica que seus principais
parceiros na OTAN compareçam e metam lá seus pés financeiros e militares. Esse
arrocho fiscal aumentará exponencialmente com o pivoteamento para o Pacífico,
que exige gastos sempre crescentes de “defesa”, que não tendem a ser
partilhados com alguma aliança Ásia-Pacífico semelhante à OTAN.
Embora muito provavelmente haja cortes
nas bases militares no mundo atlântico e no Oriente Médio, e com o
realinhamento geográfico dos EUA, o dinheiro economizado de algumas bases será
gasto, multiplicado várias vezes, no reforço e expansão de frota sem rivais de
uma dúzia de forças tarefas construídas em torno de porta-aviões movidos a
energia nuclear.
Afinal, os oceanos Pacífico e Índico
somados equivalem, fácil, a mais que o dobro do Atlântico; embora, sempre segundo
Kagan, a China ainda não seja “ameaça existencial”, já está “desenvolvendo um
ou dois porta-aviões (...) mísseis balísticos navais mar-mar e terra-mar (...)
além de submarinos”. E já hoje se veem por ali pontos de conflito comparáveis à
Crimeia, Báltico, Síria e Irã: a disputa entre Japão e China pelo controle de
ilhas e do espaço aéreo sobre o potencialmente rico em petróleo Mar do Sul da
China; e o confronto sino-japonês em que se disputam as Ilhas Senkaku/Diaoyu no
Mar do Leste da China.
Embora seja perfeitamente normal que
Taiwan, Japão, as Filipinas e a Coreia do Sul vivam tensões, até relações
conflituosas, com a China e a Coreia do Norte, é coisa radicalmente diferente,
agora, os EUA porem-se a OTAN-izar todos os conflitos, em nome de seu próprio
interesse imperial até os confins mais distantes de seu hoje contestado Mare
Nostrum.
 |
| Ilhas Senkaku/Diaoyu no Mar do Leste da China (localização) |
O pivoteamento na direção do Pacífico
Asiático, é claro, distenderá ainda mais o império, em tempos de crescentes
restrições orçamentárias, o que reflete as limitações econômicas sistêmicas e a
crise social, que geram crescentes disfunção e dissenso políticos. É verdade
que raros e impotentes são os que, na sociedade política e acadêmica,
questionam a GLORIA PRO NATIONE: EUA, a maior nação, excepcional,
necessária e do-bem, determinada a manter o mais forte e atualizado poder
militar e ciber do mundo.
E aqui está o busílis. Os EUA são
responsáveis por quase 40% de todos os gastos militares do planeta, comparados
aos cerca de 10% da China e aos 5,5% da Rússia. A Indústria Aeroespacial da
Defesa contribui com 3% do PIB e é o maior contribuinte positivo da balança
comercial da nação. As três maiores indústrias fabricantes de armas dos EUA –
Lockheed Martin, Northrop Grumman e Boeing – são também as três maiores do mundo,
e empregam cerca de 400 mil pessoas e absolutamente mantêm cercados todos os
mercados do mundo, presos aos seus “produtos”. Mais recentemente, empresas
privadas contratadas da Defesa crescem por todos os cantos, numa nação-império
cada dia mais odiada por meter coturnos convencionais em solos. Essas empresas
privadas oferecem proporção sempre crescente de serviços de apoio contratados
para servir ao pessoal militar em campo, muitos dos quais são armados e muitas
vezes fornecidos em quantidade superior aos militares armados. Na Operação
“Liberdade Duradoura” [orig. Operation Enduring Freedom] no Afeganistão,
e na Operação “Liberdade para o Iraque” [orig. Operation Iraqi Freedom],
o número de militares regulares e o número de mercenários empregados de empresas
privadas foram praticamente iguais.
 |
| Dwight Eisenhower |
Essa rápida citação da ponta do iceberg
militar dos EUA aqui está só para recordar o aviso do presidente Dwight
Eisenhower, em 1961, de que “um imenso establishment militar” crescendo
junto com “uma grande indústria de armas” [virá a ter] influência indevida, a
qual, desejada ou não desejada” agredirá a democracia. Naquele momento, Ike
dificilmente teria antevisto os gargantuescos crescimento e peso político desse
complexo militar-industrial ou o surgimento, dentro dele, de um exército mercenário
empresarial privado.
A formidável oligarquia de fabricantes e
vendedores de armas no coração do complexo industrial-militar alimenta um vasto
exército de lobbyistas em Washington. Em anos recentes, o lobby das
armas, sempre crescente, gastou incontáveis milhões de dólares em sucessivos
ciclos eleitorais, o dinheiro igualmente distribuído entre Democratas e
Republicanos. Esse polvo gigantesco é como uma “terceira Casa legislativa” e
absolutamente não aprovará nenhum corte substancial nos gastos militares, muito
menos quando seus movimentos são sincronizados com os de outros vastos lobbies,
todos relacionados à Defesa, como o do petróleo, que não aprovará qualquer down-sizing
na Marinha dos EUA, a qual, por falar dela, é de longe a principal a espionar,
digo, a patrulhar, todas as rotas comerciais nos oceanos do planeta.
Há, claro, considerável força de
trabalho, inclusive trabalhadores braçais, que ganham a vida diariamente no
inchado setor “da defesa”. Mas são menos, hoje, numa economia cujos setores
industrial/ manufatureiro já transferiram para o exterior muitas de suas
fábricas. Esse distorcido ou excepcional orçamento federal, em economia de
livre mercado, não só espalha desemprego e subempregos, como também dissemina
muitas dúvidas entre a população, sobre os benefícios materiais e psicológicos
do império.
Em 1967, quando Martin Luther King, Jr.,
rompeu seu silêncio sobre a guerra no Vietnã, falou diretamente da
interpenetração da política doméstica e da política externa, naquele conflito.
Para ele, aquela guerra era intervenção
imperialista no distante sudeste da Ásia, à custa da “Grande Sociedade” que o
presidente Johnson, que escalou a guerra, prometera promover em casa. Depois de
lamentar o terrível sacrifício de vidas dos dois lados em guerra, King previu
que:
 |
| Martin Luther King, Jr discursando |
(...) uma nação que continua ano após ano a gastar mais dinheiro na defesa
militar que em programas sociais e promoção da sociedade, aproxima-se da morte
espiritual.
Chegou a dizer que:
(...) nada, exceto um trágico desejo de morte (...) impede a nação mais poderosa da terra (...) de reordenar nossas prioridades, de tal modo que a procura pela paz se
imponha sobre a procura por guerras.
Quase 50 anos depois, o presidente Obama
e sua equipe, além de quase todos os Democratas e Republicanos, senadores e
deputados, políticos e especialistas de jornal e televisão, continuam a ser
rematados e nunca questionados imperialistas. Supondo-se que lessem Gibbon,
sequer dariam atenção à pista que oferece, de que: o declínio de Roma foi efeito natural e inevitável da grandeza sem
moderação a qual, como volta do chicote sobre o lombo do chicoteador,
corroeu a política, a sociedade e a cultura que a ostentavam.
Hoje, claro, sem bárbaros nos portões,
não há necessidade de legiões de forças armadas, nem de coturnos, o que implica
que o falimentar orçamento da “defesa” é consumido em aviões, navios, mísseis, drones,
ciber-armas e armas de destruição em massa. Si vis pacem para bellum [se
querem paz, prepara-te para a guerra], mas contra quem? E para ganhar o quê?
No início da “crise” ucraniana, o
presidente Obama voou até Haia, para a terceira reunião da Cúpula de Segurança
Nuclear [orig. Nuclear Security Summit (NSS)] criada em 2010 para
impedir o terrorismo nuclear em todo o planeta.
 |
| Barack Obama |
A Cúpula de Segurança Nuclear foi
invenção e projeto de Obama, apresentado em declaração oficial pelo secretário
de Imprensa da Casa Branca na véspera do encontro de fundação, em abril de
2010, em Washington.
A declaração lembrava que:
(...) mais de
2 mil toneladas de plutônio e urânio altamente enriquecido existem em dúzias de
países e há 18 casos documentados de
roubo ou perda de urânio ou plutônio altamente enriquecidos. Acima de tudo:
“sabemos que a al-Qaeda, e possivelmente
outros grupos terroristas ou criminosos, estão tentando obter armas atômicas –
além de materiais e expertise necessários
para fabricá-las. Os EUA não são o
único país que pode vir a sofrer com o terrorismo nuclear, mas não pode impedi-lo todo, sozinho.
Assim sendo, a Cúpula de Segurança
Nuclear é o meio “para chamar a atenção para essa ameaça global” e tomar as
medidas preventivas urgentemente necessárias.
Concebida e estabelecida depois do 11/9,
a Cúpula de Segurança Nuclear, pela última contagem, reúne 83 países dedicados
a cooperar para decapitar o monstro, reduzindo a quantidade de material nuclear
vulnerável e impor segurança mais cerrada sobre todos os materiais nucleares e
fontes radioativas in loco, nos vários países. Em Haia, havia multidões de jornalistas
cobrindo o evento, uns 20 chefes de estado e de governo, e quase 5 mil
delegados; todos esses foram atualizados sobre os avanços já realizados nessa
árdua missão autoatribuída e juraram trabalhar cada vez mais. Mas aconteceu um
percalço no último instante, uma dissonância.
Sergey Lavrov, Ministro de Relações
Exteriores da Rússia; e Yi Jinping, presidente da China, com outros 18
votantes, recusaram-se a assinar documento que ordenava que as nações membros
admitissem inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) para
inspecionar as medidas implantadas para conter a ameaça de terrorismo nuclear.
Claro que, inevitavelmente, a questão
Ucrânia−Crimeia nublou, quase conseguiu disfarçar completamente, o tão
frustrado grande sucesso da Cúpula de Segurança Nuclear. O presidente Obama
tinha a mente absoluta e completamente focada: numa reunião ad hoc do
G-8 em Amsterdã; numa visita ao quartel-general da OTAN em Bruxelas; numa
audiência com o Papa Francisco no Vaticano, em Roma; e numa reunião improvisada
às pressas com o rei Abdullah da Arábia Saudita em Riad. Exceto na visita ao
Santo Padre, da qual pode ter, talvez, tentado arrancar uma Indulgência, em
todas as suas demais reuniões e visitas o presidente reafirmou e reproclamou
que os EUA eram, são e planejam continuar a ser a que Hubert Védrine, um ex-Ministro
francês de Relações Exteriores, chamou de única “hiperpotência” do mundo. O
imbróglio Ucrânia−Crimeia só fez acrescentar à profissão de fé e afirmação garantida,
uma maior urgência.
É irônico que a agendada Cúpula de
Segurança Nuclear tenha sido o abridor de cortinas para a sequência de visitas
presidenciais improvisadas à plena velocidade, no alvorecer do que Paul
Bracken, outro experiente e “inserido” professor de geopolítica, assevera que
seria A Segunda Era Nuclear [orig. The Second Nuclear Age] (2012)
– dessa vez em mundo multipolar, não bipolar. A verdade é que Bracken meramente
e magistralmente teorizou o que há muito tempo tornou-se ideia−guia e
prática-guia em todo o establishment de política exterior &
militares nos EUA. É isso, ou, então, como diria Monsieur Jourdain, de Molière,
há muito tempo os membros desse establishment “já falavam em versos, sem
nem saber”.
 |
| Paul Bracken |
A eliminação ou radical redução
negociada de armas atômicas não está, absolutamente, na agenda. Foi descartada
como ideal quixotesco, num mundo de nove potências nucleares: EUA, Rússia,
Reino Unido, França, China, Índia, Paquistão, Coreia do Norte – e Israel. No
governo de Obama, os EUA e a Rússia pós-soviética acertaram que não manteriam mais
de 1.500 ogivas, número a que chegaram depois de várias reduções. Mas agora,
com a re-emergência da Rússia como grande potência e do prodigioso renascimento
com recrutamento forçado, da China, num mundo multipolar, os EUA parecem
inclinados a cuidar de manter considerável superioridade nuclear sobre... as
duas!
Embora, enquanto provavelmente
Washington e Moscou já se veem às voltas com problemas da “modernização” de
seus arsenais nucleares e capacidades “para disparar bombas”, a China, nesse
campo, ainda engatinhe.
Falando grosso pelos EUA, enquanto é
potência militar e econômica não superada, Obama conseguiu convencer seus
parceiros no G-8, fórum das maiores economias do mundo, que fala muito, sempre
sem entusiasmo algum, a suspender, para não dizer “expulsar”, a Rússia – para
castigar Putin pela transgressão na Ucrânia−Crimeia. O mais provável, porém, é
que tenham concordado em fazer esse gesto, quase só simbólico, para evitar
assinar sanções ainda mais duras contra Moscou. Ao convir nessa falcatrua
orquestrada pelos EUA, o G-7 remanescente só faz expor sua característica de club
privé, criado para, arrogantemente, fazer dos BRICS, excluídos.
O declínio do Império Americano, como de
todos os impérios, promete ser ao mesmo tempo gradual e relativo. Quanto às
causas desse declínio, são inextrincavelmente externas/ domésticas e externas/ estrangeiras.
Não há como separar o refratário déficit no orçamento e seu complemento, o
dissenso social e político, do irreduzível orçamento militar indispensável para
derrubar impérios rivais. Claro que na operação de emprestar a expressão
inspirada e conceitualmente densa, de Chalmers Johnson, o “império de bases”,
para dar nome a bem mais de 600 bases em provavelmente mais de 100 países, em
vez de tombar, da noite para o dia, da onipotência na impotência, inclui-se o
risco de tudo se tornar cada vez mais errático e intermitentemente violento, na
“defesa” da já para sempre esvaziada “nação” excepcional.
Até aqui, ainda não se vê ainda nem
sinal de que cogitem desistir da pretensão de permanecer primeira entre
aspirantes a iguais nos mares, ares, ciberespaços e na cibervigilância. E o
peso do músculo militar para essa super-auto-re-atribuição é garantido por uma
pujante indústria da “defesa”, numa economia assolada por desemprego
profundamente enraizado e uma sociedade saqueada por renda e desigualdade
humilhantes, por pobreza crescente, pela anomia sociocultural incapacitante e
por avassaladora, sistêmica corrupção política. Inobstante o que digam os
Sabe-Nada imperiais, essas condições sempre solaparão o apoio doméstico a
política externa de intervencionismo e militarismo não reconstruído. Também
esterilizarão o poder soft dos EUA, porque corroem a aura da
democrática, salvífica, City on the Hill. [4]
Assim como a União Soviética e o
comunismo foram o arqui-inimigo polimórfico durante a Primeira Era Nuclear, o
terrorismo e a “ameaça” islamista podem bem fazer o mesmo papel, na Segunda Era
Nuclear. Talvez pareça que a ameaça e o uso de armas nucleares soem hoje menos
úteis, embora em nada menos demoníacos, que antes. Sub specie aeternitatis
[do ponto de vista da eternidade], o horror do ataque terrorista contra o World Trade Center em New York e contra a Maratona em Boston
foram bagatela, comparado à fúria do bombardeio nuclear contra Hiroshima e
Nagasaki em agosto de 1945. Claro que é recomendável que muitas nações cuidem
de impedir o “terrorismo nuclear” servindo-se para isso da Cúpula de Segurança
Nuclear.
 |
| Bomba Atômica |
Mas, como não há sistemas seguros de
acesso ao controle, a missão está condenada a morrer no ninho, se não houver,
simultaneamente, movimento decidido para reduzir radicalmente, ou para
liquidar, o apavorante arsenal de armas nucleares e de materiais para produzir
armas nucleares. Afinal, quanto maior o estoque, maiores a oportunidade e a
tentação para um terrorista, um criminoso ou um vazador, atravessar o Rubicão.
Segundo estimativas bem informadas, há
hoje bem mais de 20 mil bombas atômicas nesse planeta; EUA e Rússia guardam
mais de 90% desse total. Não menos formidáveis são os estoques globais de urânio
e plutônio enriquecidos.
Em setembro de 2009, Obama disse ao
Conselho de Segurança da ONU que “novas estratégias e novas abordagens” eram
necessárias para enfrentar uma “proliferação” de “alcance e complexidades” sem
precedentes, de tal modo que se “apenas uma arma atômica explodir numa cidade –
seja New York ou Moscou, Tóquio ou
Pequim, Londres ou Paris – poderia matar centenas de milhares de pessoas”. Na
sequência, mais de um analista confessou que considera um ataque atômico
doméstico, organizado e executado dentro dos EUA, com uma dessas impensáveis
bombas sujas, uma ameaça maior e mais iminente, que algum prosaico ataque
nuclear movido pelos russos. Tudo isso, enquanto a Cúpula de Segurança Nuclear
escreve na água, e o Pentágono continua a “modernizar” o arsenal e as
capacidades nucleares dos EUA – também com armas químicas, já, preparadas.
Corta-se o orçamento para capacidades militares convencionais, não para as
capacidades nucleares.
Fato é que, com tudo isso na cabeça, a
super-reação dos EUA contra o movimento dos russos na Crimeia é muito
preocupante. Desde o início, o governo Obama proclamou temerariamente e
exageradamente supostos objetivos e métodos de Moscou – de Putin – ao mesmo
tempo em que proclamava a absoluta inocência de Washington no imbróglio em
curso.
Praticamente do dia para a noite, antes
até da superexplorada acusação de que Moscou estaria reunindo tropas na
fronteira da Ucrânia e, em geral, em toda a parte europeia da Rússia, “vizinhos
próximos” da OTAN – leia-se Washington – puseram-se a deslocar equipamento
militar avançado para os países do Báltico e Polônia.
Dia 4/4/2014, os ministros de Relações
Exteriores dos 28 países membros da OTAN reuniram-se em Bruxelas, com o
objetivo de reforçar o músculo militar e de cooperação, não só nos países já
citados, mas também na Moldávia, Romênia, Armênia e Azerbaijão. Além disso, as
patrulhas aéreas da OTAN serão escaladas, e baterias antimísseis serão instaladas
na Polônia e na Romênia. Aparentemente, a reunião de emergência da OTAN também
considerou exercícios militares conjuntos em vasta escala e o estabelecimento
de bases militares da OTAN próximas às fronteiras da Rússia, as quais, segundo
o Figaro, jornal conservador francês, seriam “demonstração de força que
os próprios Aliados vedaram nos anos posteriores ao colapso da União Soviética”.
Será que armas nucleares táticas e aviação com capacidade nuclear – ou drones
com capacidade nuclear – serão deslocadas para essas bases?
E para qual finalidade? Preparando uma
guerra convencional de trincheiras, guerra de blindados, ou guerra total do
tipo Operação Barbarossa? Claro, em tempos pós- Hiroshima e Nagasaki, deve
haver um plano de contingência, um Plano B para duelo nuclear, com os dois
lados, no caso da “contenção” recíproca falhar, confiantes em suas capacidades para
primeiro e segundo ataque. Não só Washington, mas também Moscou, sabem que em 1945 a razão decisiva para
usar a arma absoluta foi claramente geopolítica, muito mais que apenas militar.
Com o peso dos imperialistas não
regenerados na Casa Branca, no Pentágono, no Congresso, mais a “terceira Casa
legislativa” e os think tanks, há risco de que essa “operação liberdade
dos vizinhos próximos da Rússia
europeia” pela OTAN-cerebrada pelos EUA fuja completamente de controle, dentre
outros motivos porque os Sabe-Nada norte-americanos com certeza têm
contrapartes russos.
Nesse jogo de corre-corre à beira do
penhasco nuclear, os EUA não se podem apresentar como reserva moral e legal,
porque foi o presidente Truman e seu círculo de conselheiros que iniciaram a
maldição da guerra atômica e, nem com o tempo, jamais se viu gesto, nem oficial,
nem popular de arrependimento por esse excesso militar imperdoável. E, isso,
apesar de o general Eisenhower já ter dito que:
(...) desencadear o inferno atômico contra população predominantemente civil
é simplesmente o seguinte: ato de supremo terrorismo (negritos meus)
(...) e de barbárie cruel e
impiedosamente calculado pelos planejadores norte-americanos, para demonstrar o
poder demoníaco de seu próprio país, ao resto do mundo – e à União Soviética em
particular.
Haveria filiação entre esse clamor da
alma e o alerta sobre a toxicidade do “complexo industrial-militar” do discurso
de despedida do presidente Eisenhower?
É tempo de se fazer um debate nacional –
e um referendo a ser iniciado pelos cidadãos norte-americanos – sobre se, sim
ou não, os EUA devem empreender imediatamente o autodesarmamento nuclear
unilateral. Pode ser exercício salutar e exemplar, em democracia participativa.
Notas dos tradutores:
[1]
Sobre o filme para televisão, com esse título, ver: “By Dawn's Early Light”
[2] Esse “impasse” já não existe: a Crimeia já se
reincorporou à Federação Russa e a “Ucrânia é ficção”, como se aprende do
Saker. O ensaio pode ter sido escrito antes desses desdobramentos e, seja como
for, nada perde por essa imprecisão.
[3]
Orig. “new-caught, sullen peoples,
half-devil and half-child”; é verso do poema “The
White Man's Burden”; em português “O Fardo do Homem
Branco”, de Rudyard Kipling (1899).
[4] É expressão que aparece na Bíblia, no Sermão da Montanha;
retomada no discurso dos colonizadores puritanos nos EUA e, daí, incorporada ao
discurso político nos EUA, para designar os EUA: cidade no alto da colina, a
mais visível, a que se vê de longe, a mais brilhante, etc.. Há aí também um
deslizamento semântico com “The Hill”, expressão que designa a colina do
Capitólio, em Washington.
___________________
[*] Arno Joseph Mayer (nascido em 1926) é um historiador americano de
origem luxemburguesa, especialista na Europa, em diplomacia internacional e na Shoah. É professor de História na Universidade de Princeton.
Mayer, de família judia, fugiu para os Estados Unidos durante a invasão
nazista de Luxemburgo em maio 1940 e se tornou um cidadão naturalizado dos
Estados Unidos em 1944; naquele mesmo ano, foi
convocado para o Exército dos Estados Unidos onde serviu como oficial de
inteligência. Tornou-se um oficial de moral para
os prisioneiros alemães de alto escalão da guerra. Recebeu sua educação no City
College de New York e da
Universidade de Yale . Foi professor na
Universidade de Wesleyan (1952-1953), da Universidade Brandeis (1954-1958) e da
Universidade de Harvard (1958-1961). Leciona na
Universidade de Princeton desde 1961 até hoje. É autor dos ensaios: The Furies: Violence and Terror in
the French and Russian Revolutions e Plowshares
Into Swords: From Zionism to Israel (Verso).













Assustador.
ResponderExcluirHouve um erro de tradução em "Assim faz porque em todos os domínios, exceto o militar, o império está não só muito excessivamente estendido e disperso, mas, também, porque, ao longo dos últimos poucos anos, governos/“regimes” de tendência à esquerda emergiram em cinco nações norte-americanas". Conferi no original e constatei que o correto é "regimes” de tendência à esquerda emergiram em cinco nações latino-americanas".
ResponderExcluirCaro Ricardo
ExcluirPreferimos colocar governos/regimes, pois em português essas palavras tem o mesmo significado que "regime" em inglês. No Brasil p. ex. o governo é (ou seria) de esquerda, mas o regime é (ou seria) de centro-direita. De qualquer maneira fica como está no blog.
Grato
Castor
Castor, o erro que eu detectei na tradução foi em "cinco nações norte-americanas" (que não são cinco). O original em inglês se refere a "cinco nações LATINO-AMERICANAS". É isso o que consta o original em inglês.
ResponderExcluirAbraço.
Grato, Ricardo
ExcluirCorrigido
Abraço
Castor